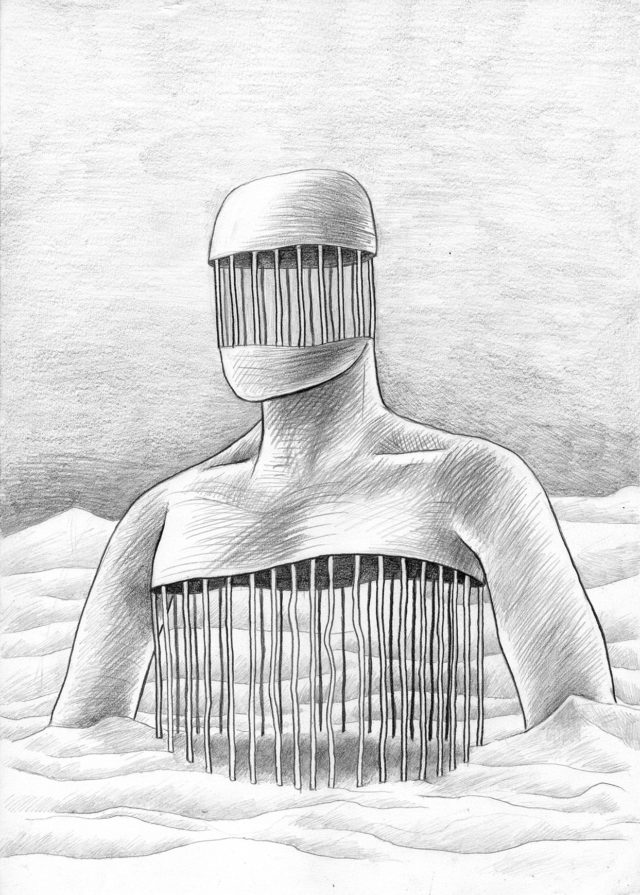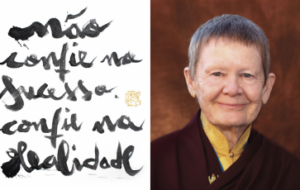O poder curativo da comunidade
Nas últimas semanas, cheguei em uma dissertação de mestrado, intitulada: “Estudo sobre a variação de sintomas depressivos relacionada à participação coletiva em ocupações de sem-teto em São Paulo”. Realizada na Faculdade de Medicina da USP, pelo programa de Psiquiatria, o trabalho de Guilherme Castro Boulos é um sopro de humanização nos que são invisíveis em uma cidade tão desigual como São Paulo.
Ao longo da pesquisa, fruto também de sua atuação de muitos anos junto ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Boulos verificou uma redução dos sintomas depressivos em participantes, ao analisar seus relatos sobre antes e depois do engajamento no MTST.
Sem deixar de tocar em temas como felicidade, a epidemia de depressão, a medicalização da tristeza, e em conceitos como “humilhação social” e “ralé brasileira” (cruciais para entendermos o contexto social do nosso país), Boulos mostra que esses participantes experimentaram uma “cura” pela comunidade. Além da luta política em comum por um teto, as ocupações têm vivências sociais e comunitárias intensas, a que Boulos também atribui a redução dos sintomas depressivos.
Do início ao fim, o trabalho é de uma sensibilidade imensa e traz relatos que nós precisamos ouvir. Aqui embaixo, um trecho em que Guilherme Boulos conta sobre a vida de Meire e seu florescimento ao chegar ao MTST. Antes, uma breve introdução que também está logo no início de sua dissertação.

Nesses quinze anos, em dezenas de acampamentos, tive a oportunidade de observar muitas coisas. Em sua maioria, boas; outras nem tanto. Pude conviver com gente de histórias de vida extraordinárias, com o sofrimento gravado no rosto, e mesmo assim tremendamente solidária. Pude escutar gente de 70, 80 anos que, apesar de uma vida de trabalho duro, não conseguiu um canto para morar. E gente embrutecida pela dura luta diária da sobrevivência sendo transformada “da água para o vinho”, nas palavras de uma sem-teto entrevistada neste trabalho.
De todos os tipos de relatos e experiências, um foi me chamando especial atenção ao longo do tempo. Por sua força, interesse e recorrência.
Foi numa ocupação em Osasco, em 2002, a primeira vez que escutei alguém falar que o movimento “curou” sua depressão. Era uma senhora, de meia-idade, que resolveu abrir num grupo de coordenadores como o acampamento mudou sua vida. Antes estava sozinha, não saía da cama e dos remédios, sentia-se desprezada e inútil. No acampamento, tudo tinha mudado: ajudava na cozinha, as pessoas a procuravam, ali ela tinha com quem contar.
Este relato, especialmente pela forma verdadeira como foi feito, me causou forte impacto. E foi o primeiro de muitos. Em cada ocupação, bastava dedicar algum tempo para escutar as pessoas e emergiam histórias análogas. Pessoas que choravam no despejo, não por não ter para onde ir, mas pela perda do que aquele espaço representou para elas. Pessoas que passaram a seguir o movimento, de ocupação em ocupação, para reviver a experiência que as tinha marcado.
Posteriormente, pessoas que mesmo tendo conquistado suas casas, persistiam nas ocupações e mobilizações do movimento. Havia algo ali, além da demanda pela moradia, que as motivava e fazia com que se sentissem melhor e até “curadas” da depressão.

“A ocupação foi meu remédio”
Meire é uma sobrevivente. Com 53 anos de idade, passou os últimos dez anos cuidando de familiares doentes e, depois, lidando com suas próprias doenças, sem contar as mortes na família. Antes disso, atuou em greves metalúrgicas e teve uma militância nos mutirões de moradia da zona leste, onde aprendeu a “dobrar ferro, carregar tijolo, acampar na prefeitura”. Mas, parou “com tudo”: “aí fiquei só cuidando da família doente, só cuidava dos outros, esquecia de mim, aí quem ficou doente fui eu, entrei numa depressão”.

A depressão não era o único dos problemas de Meire. Cuida da mãe, de 75 anos, que é “depressiva”. O marido também, segundo ela “bipolar”, além de ter problemas com o alcoolismo. Viu seus dois irmãos morrerem em período recente, um deles de câncer, “no meu colo”. E já havia enterrado um filho, falecido logo após o nascimento. Depois ela própria teve câncer, contra o qual ainda está lutando. Um mês antes da ocupação teve um infarto. Como reza o dito popular, desgraça pouca é bobagem.
Logo após a descoberta do câncer, Meire entrou em depressão. Não levantava mais da cama. “Sozinha, deitada, a minha filha falava ‘levanta mãe’”. Só levantava para duas coisas: para ir à Santa Casa fazer o tratamento e para limpar a casa. “Peguei essa fissura de faxina, limpava tudo, a casa podia estar limpa, pra mim estava suja. Aí limpava tudo, depois me trancava e não falava com ninguém”.
Tentou frequentar a igreja, mas “falei ‘não’, não resolvia pra mim, quando eu quero falar com Deus, eu falo em casa”. Não foi mais.

Certo dia, em meio ao seu sofrimento, a mãe de Meire falou numa discussão que a casa era dela. “Aí falei ‘caramba’, chamei meu genro, minha filha, meu marido e falei ‘gente, a gente vai ficar achando que isso aqui vai ser nosso, a vó vai falecer, tem os outros netos…’, agora ninguém quer cuidar dela, velho hoje em dia pra jovem é roupa velha, né? Então por causa dessa casa vão fazer um auê só. Vamos procurar o que é nosso”. Assim Meire, mesmo doente, chegou na ocupação Dandara, levando junto o marido, a filha e o genro.
Quando estava fazendo o barraco, “a Luciana chegou e falou pra tirar coordenação, aí todo mundo apontou pra mim. Eu falei ‘não, eu não porque eu tô fazendo tratamento’. Aí minha filha: ‘mãe, vai ser bom pra senhora’, que ela já sabe que eu fico bem”. Não deu outra: “A ocupação eu falo que foi meu remédio”.
“Adoro. Chego sete horas da manhã, vou embora, faço trilha, fico aqui, grito – que você sabe que eu grito – porque eu falo: a gente tem que lutar pela nossa casa, não é só pela casa, é pelo povo”.

Meire faz várias atividades na ocupação, “precisou de mim, eu tô aí”. Atribui sua melhora ao fato de não ficar deitada “pensando na doença” e ao contato com os outros na ocupação, muitos em situação difícil: “às vezes, a gente reclama de uma coisa tão simples, tem pessoa pior do que a gente”.
Meire já decidiu: “daqui eu já falei que vou pra outra ocupação. Tudo de novo, pra mim enquanto tiver força eu vou indo”.

Boulos associa esse poder terapêutico e curativo da luta e da comunidade a quatro momentos que acontecem assim que a pessoa passa a participar do MTST.
1) Acolhimento
Primeiro, há um acolhimento logo na entrada do novo membro. Uma equipe disposta a fazer o entrosamento acontecer é o ponto de partida de quem chega e é imediatamente reconhecido como membro daquele coletivo. Em cidades tão desiguais, essa talvez seja essa a primeira vez em que alguém se sente de fato participante de um movimento que vai além da própria vida.
2) Convivência em comunidade
Em seguida, a convivência comunitária acontece naturalmente nos espaços coletivos. Não à toa vários participantes relatam terem ganhado uma nova família. O convívio diário é o de uma nova e grande rede familiar.
3) Responsabilidade
Ao participarem das tarefas coletivas destinadas para o bom funcionamento da ocupação, um senso de responsabilidade surge. Seja na cozinha, na luta ou na coordenação: agora o participante é parte importante da engrenagem que faz o movimento acontecer.
4) Empoderamento político
E, por fim, há um reconhecimento de uma cidadania antes ofuscada. Com a participação nas mobilizações coletivas que buscam um teto para todos, a voz de pessoas invisíveis socialmente passa a ser ouvida, finalmente. Nas palavras de Ranilda, que conta que se descobriu útil em um monte de coisas: “posso ser a presidente do Brasil, posso ser o que eu quiser hoje, depende da minha garra”.
“Ocupação não rima com depressão”, como diz um dos capítulos da dissertação de Boulos. Ao ler seu trabalho, fiquei impressionada com o benefício social e mental de um movimento com o MTST, tão estigmatizado por puro desconhecimento do que se trata.
Diversas pesquisas recentes (como as de Robert Putnam sobre nossa desconfiança nas instituições e as de felicidade de Harvard, encabeçadas por Robert Waldinger), nos explicam que, se quisermos realmente cultivar esse negócio chamado felicidade, é bom que olhemos para os outros.
O trabalho de Boulos é um excelente ponto de partida para aproximarmos academia e vida real, pesquisas científicas e movimentos em prol da sociedade. Que a gente descubra logo o poder curativo da comunidade.
Para ler a dissertação de Guilherme Boulos →
Começa em fevereiro o Intensivo SIM para afirmar a vida e a dignidade

Observe a quantidade de tempo que perdemos repercutindo falas absurdas de políticos, memes e hashtags, distraídos por uma enxurrada de desinformação. Sem querer, ficamos impotentes. Deixamos que a notícia do dia sequestre nossas conversas e defina nossos movimentos. Quando os problemas se intensificam, nossa reação habitual é negar, reclamar, nos juntar pela oposição, apontar culpados e inimigos. Isso quando não ficamos indiferentes e tentamos só buscar algum sucesso pessoal.
E se a gente começar a afirmar outra coisa? Em vez de apenas combater monstros e problemas, e se olharmos para a nossa própria bondade e criatividade? E se fortalecermos ainda mais nossas qualidades positivas, sonhos, visões amplas e relações? E se trocarmos desespero por compaixão, medo por alegria, autointeresse por comunidade? Dia 1 de fevereiro vamos começar o intensivo SIM, inteiro online, com pessoas de todo o Brasil e do mundo, e convidados muito especiais.